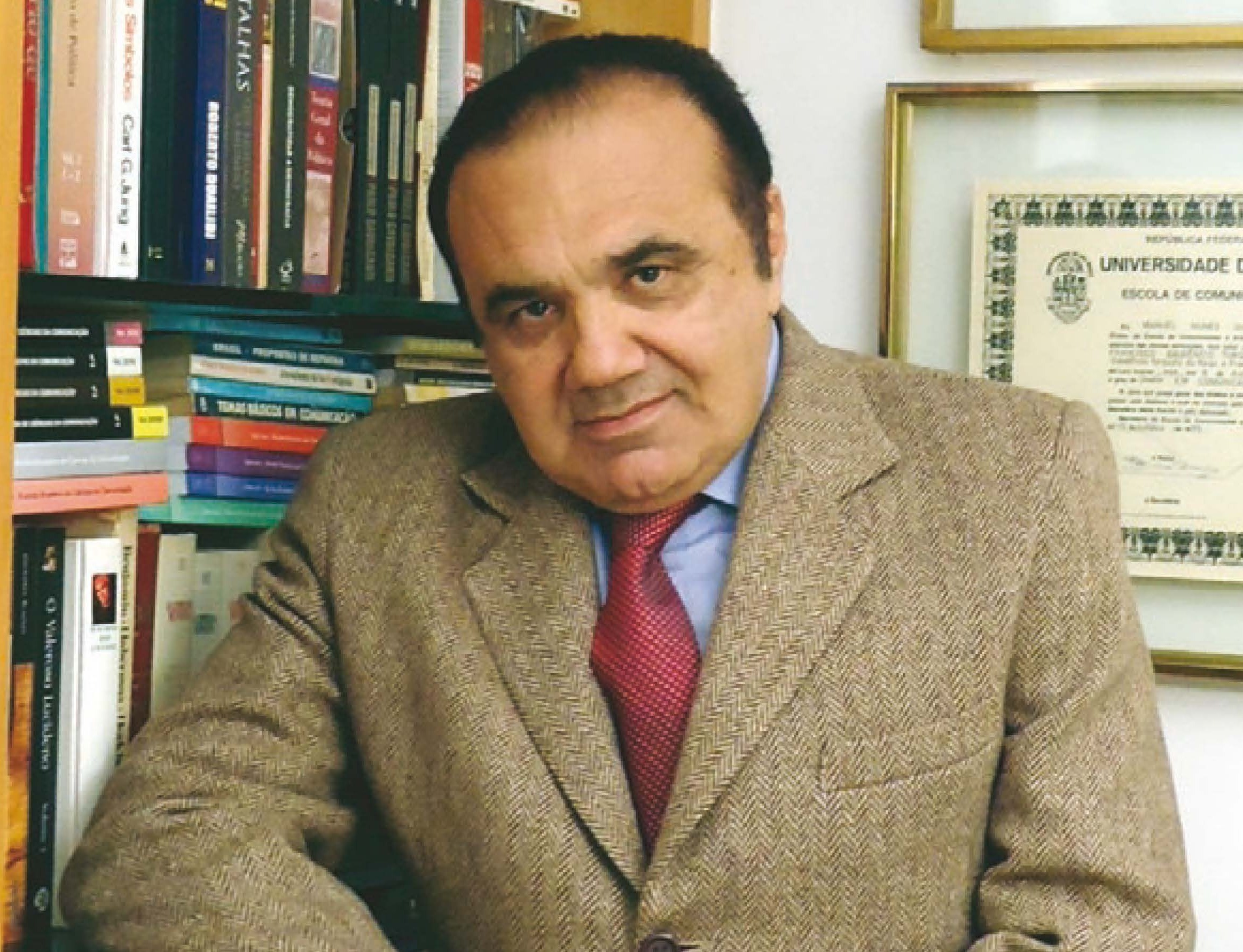
Gaudêncio Torquato é referência em marketing político e escreve na Folha de S. Paulo. Foto: Summus
Colunas
Jornalista, analista político e um dos maiores comunicadores do País, Gaudêncio Torquato revisita sua trajetória nesta entrevista a seguir
03 de fevereiro de 2022
Por Lívio Oliveira *
Não à toa, o nome do nosso entrevistado é Gaudêncio, “o que se regozija”, “o que se alegra”, provindo do latim Gaudentius, de gaudens, gaudentis, do verbo gaudere.
Francisco Gaudêncio Torquato do Rego é escritor, jornalista, professor titular da USP, articulista e consultor político, além de membro recentemente eleito da Academia Norte-rio-grandense de Letras.
Gaudêncio é, antes de tudo, um colossal comunicador. Brinda-nos sempre com notícias oriundas de todas as partes do mundo, além das suas brilhantes colunas de análise, destacadamente política (quem nunca leu as suas deliciosas Porandubas, que no Tupi quer dizer história, notícia?).
Na entrevista que segue, esse potiguar, nascido no município de Luís Gomes no ano de 1945 (e vivendo em na cidade de São Paulo há décadas), mostra novamente o quanto tem a nos dizer, a nos comunicar.
L.O. Caro Gaudêncio, após a leitura do livro que escreveu sobre o seu pai ("Gaudêncio, meu pai"), é impossível não perceber a importância da figura paterna para a edificação do filho, que carrega o mesmo nome. Em quais dimensões isso se verifica? Em que caminhos e veredas da sua trajetória?
G.T. Meu pai (pausa)...meu pai, Gaudêncio Torquato do Rego, foi um facho de luz em minha vida. Aliás, em nossas vidas. Refiro-me à prole de 22 filhos, todos nascidos sob o mesmo teto e no mesmo quarto. Todos o tinham como referência de lutador, um homem que se construiu a partir do trabalho, um perfil que se destacou por manter uma vida simples e voltada para a educação dos filhos. Com exceção de um, todos com curso superior. Pobre, saiu de Pau dos Ferros no lombo de um burro para enfrentar três dias até chegar à serra de Luís Gomes, onde se fixou.
Sua origem provém da imensa família Rêgo (naquele tempo com circunflexo), que habitava um sítio/fazenda nas cercanias de Pau dos Ferros. Convidado por um padrinho, Antônio Martins, foi auxiliá-lo nas tarefas de uma loja de tecidos, secos e molhados, numa das esquinas do mercado municipal. Cresceu profissionalmente, a ponto de o padrinho ter se mudado para Mossoró e deixado o afilhado tomando conta da loja. O auxiliar virou sócio e, mais adiante, adquiriu com seus recursos economizados a loja. Tornou-se um autodidata, lendo muito e acompanhando as coisas da política. Um udenista desses bem convictos. Foi Prefeito de Luís Gomes. Chefe político. Fã do brigadeiro Eduardo Gomes (UDN) e contra o marechal Eurico Dutra, PSD. Casou-se com Maria Alves de Figueiredo (Nia), bem cedo, com quem teve 11 filhos. Ela morreu bem jovem, tendo 11 filhos. Casou-se, em 1944, com Francisca Nunes Torquato, Chiquita, minha mãe, com quem teve também 11 filhos. Exemplo de trabalho, ia dormir por volta de 20:00 e acordava as 4:30 da manhã. Às 5, acordava os filhos para o ajudarem a tirar o leite das vacas em um curral atrás da nossa casa. Detalhe: mesmo aqueles que chegavam de férias eram obrigados a receber o puxão da rede e o brado: “Levanta, seu trouxa! Levanta, seu trouxa!.
Devo destacar: comerciante, proprietário rural, meu pai comprou fazendas e sítios. Era leitor assíduo do Jornal do Commercio, de Recife, que lia avidamente, para nosso desespero de crianças. Explico: a energia era produzida por um único motor, e a luz do final do dia já exigia o apoio de um farol; éramos incumbidos de segurá-lo e, às vezes, uma lamparina para que ele pudesse ler o jornal. O JC chegava uma vez por semana no lombo de um jumento, vindo de Pau dos Ferros. Um imenso pacote de jornais atrasados. (Um irmão, querendo aliviar a tarefa, não raro jogava um monte de jornais nos buracos e no mato, para diminuir o tempo de leitura do pai. Segurávamos, em pé, a lamparina. Um sacrifício!). Ficávamos ali ao lado da cadeira de balanço. Vez ou outra, quem caía no cochilo levava uma batida nas costas: “Acorda, seu trouxa!”.
Minha ligação com jornais, portanto, foi por osmose (risos). De tanto conviver com aquelas páginas, de ouvir o estalido de suas dobras, do cheiro de tinta que exalava da impressão em tipos móveis, passei a gostar dos periódicos. A lamparina, pois, me mostrou as primeiras luzes do jornalismo.
L.O. Como você vivencia hoje, vivendo na maior cidade do país, os sentimentos telúricos com relação ao Rio Grande do Norte?
G.T. Sempre amei o torrão onde nasci e passei a infância. Como se diz no interior, fui desmamado muito cedo (risos). Aos 10 anos, minha mãe, muito religiosa, presenciou “um milagre”. O sonho era ver o filho padre, já que a prole tinha quase tudo: médicos – Zé Torquato, Ivonildo e Luiz –, advogados, engenheiros agrônomos, professoras etc. Faltava um padre. Fui o destacado para ser o padre da família. Achava bonita a liturgia das missas. Os paramentos eram um festival de cores. E aconteceu o que minha mãe via como um sinal dos céus. Certa noite, me viu encenando uma missa na sala de jantar, com a ajuda de uns 5 a 7 colegas. Travessura de criança. Ela apareceu bem na hora em que eu levantava a hóstia. “Milagre!”, exclamava a minha fervorosa mãe. Assombrei-me e fui logo pensando: eita, já sei minha sina... Na época, os padres lazaristas holandeses dirigiam o Seminário Santa Terezinha, em Mossoró, e durante as férias alguns se deslocavam até Luís Gomes. A coisa se arrumaria facilmente. Convenceram-me a entrar para o Seminário. E queriam que eu fosse para a Holanda. (Felizmente, dona Chiquita não topou essa parada). Entrei no Seminário de Mossoró antes de completar 11 anos. Início de 1956. Vou logo adiantar: foi a decisão mais acertada sobre minha formação. Eu passei o ginásio todo estudando grego, latim, filosofia, enfim, ganhei uma formação humanística excelente nesse primeiro ciclo de minha vida, oportunidade que eu tive de ler muito.
No quinto ano primário, Preliminar, como acentuei, já traduzia grego e latim, a partir dos clássicos (até hoje sei de cor a primeira estrofe da Eneida, de Vergílio – risos). Aos 14 anos, havia lido um bocado de livros da biblioteca, privilégio concedido a quem terminasse os exercícios até às 15 horas. Lia até 16:30. Às 17, uma hora de futebol. Banho, refeição ouvindo a leitura de um livro, todos em silêncio, na hora de jantar. A seguir, reza na capela antes de dormir. Nas férias de fim de ano, Luís Gomes. Nas férias de julho, Tibau.
A serra era o porto do reencontro: amigos, amigas, passeios, o encantado divertimento da infância, incluindo a participação nas disputas futebolísticas entre cidades. E, claro, entrosamento com as garotas. Apaixonei-me por uma durante a Festa de Santana. Numa noite, tranquei-me num quarto e passei a chorar: “não quero ir mais para o seminário”. Minha me convenceu a ficar mais um ano, agora em João Pessoa, no seminário Nossa Senhora da Conceição, cujo Reitor, na época, era um amigo da família, D. Luís Fernandes, um sábio e santo. Passei mais um ano e dei adeus aos seminários. Em 1962, aportei em Recife para fazer o 1º ano colegial no Colégio Batista, na rua Dom Bosco. Aí passei três anos. Fiz, a seguir, o vestibular na Universidade Católica de Pernambuco, mas no terceiro ano, em 1964, já trabalhava na Sucursal do Jornal do Brasil, na rua do Príncipe. Nos fins de semana, despachava-me para Natal para matar saudades da família e dos amigos. Passagem baratinha; jornalista, na época, pagava a metade. Sempre conservei a corrente telúrica que me prendia à terrinha, sob a circunstância de nunca ter morado em Natal. Fui de Mossoró para João Pessoa e daí para Recife. Meus irmãos, a partir de Lindalva, minha irmã que foi deputada, e presidiu o Tribunal de Contas do Estado, foram morar em Natal no começo de sua vida adulta.
L.O. Você poderia nos contar algo acerca da estrada que lhe levou à condição de homem da Comunicação, sendo hoje um dos maiores jornalistas do país?
G.T. Minha ligação com o jornalismo foi osmótica, por assim dizer, segurando a lamparina para meu pai ler, à noite, o Jornal do Commercio. Quase uma extensão física do meu corpo. Comecei na sucursal do Jornal do Brasil em Recife, de maneira sortuda. Explico: por volta de 9 horas da manhã, fui pedir um estágio no jornal, que ficava na rua da União, onde Manuel Bandeira “brincava de chicote-queimado e partia as vidraças da casa de dona Aninha Viegas”. Saí da Casa do Estudante vestindo uma roupa simples, camisa curta, não estando preparado para uma tarefa jornalística. Entrei na Sucursal muito encabulado. O chefe da sucursal, Paulo Rehder, jornalista experiente do Rio de Janeiro, foi logo respondendo ao meu pleito: “– Garoto, já que você quer fazer jornal, pega essas laudas e vai até a Sudene entrevistar os governadores do Nordeste sobre reforma agrária”.
Imagine isso em 1964, na época da “redentora”, os anos de chumbo começavam ali, a ditadura começava ali, eu não sabia nem onde era a Sudene. “– Você descobre onde é, lá na Praça Dantas Barreto”. Subi para a reunião da Sudene, que já havia sido iniciada, era uma reunião mensal com todos os governadores do Nordeste mais os conselheiros representantes dos ministérios, enfim, uma mesa circular. Eu cheguei e ouvi a pergunta: “– Você é o quê?”, “– Sou jornalista do Jornal do Brasil”, “Vai para aquele cercadinho, os jornalistas estão lá”. Fiquei no meio dos jornalistas, ninguém me conhecia, olhavam para mim de maneira estranha. “Que bicho é esse que veio aqui? Chegando aqui agora e tal”. E eu tinha que entrevistar, como é que eu vou entrevistar?
Os governadores estavam todos sentados em volta da mesa. Eu não tive dúvida, comecei a fazer a tarefa que me deram, comecei a escrever perguntando, me ajoelhando ao lado de cada governador, “– Governador, eu sou do Jornal do Brasil, por favor, eu tenho uma pergunta para fazer ao senhor”. “– O senhor é a favor ou é contra a reforma agrária?”, e assim eu fui correndo toda a mesa.
No final da reunião ainda faltavam dois governadores, inclusive um do meu estado, Aluízio Alves; o outro era o governador de Pernambuco, Paulo Guerra. Peguei os dois no corredor, enfim, entrevistei todos os governadores do Nordeste, inclusive o interventor em Fernando de Noronha. Todos eles a favor da reforma agrária. Voltei para a sucursal. “– Faça um telegrama”; fui redigir o telegrama, dizendo que os governadores do Nordeste eram a favor da reforma agrária.
Depois de tentativas, Rehder os rasgava, sem informar porque estava ruim. Acabei acertando o lead e corri para a Italcable; na época não tinha internet. Passei o telegrama. Isso foi numa sexta-feira. Sábado, dia seguinte, nada no jornal, fiquei meio frustrado. No domingo pela manhã, morando na casa do estudante, saí para o centro da cidade, até a banca de José do Patrocínio, e qual não foi minha surpresa em ver que minha primeira matéria no jornalismo abria uma manchete de oito colunas no Jornal do Brasil, o jornal mais importante da época. Bonito, bem diagramado, cuja redação era comandada por Alberto Dines, que mandava sempre recomendações sobre textos, técnicas do lead etc. Dines foi o mais completo chefe de redação de um jornal brasileiro. Lá estava: “Governadores do Nordeste apoiam a reforma agrária”. Fui aceito como estagiário no JB, entrando no jornalismo com o pé direito.
Vou dizer um fato pitoresco dos meus tempos de Jornal do Brasil... Comecei a trabalhar em 1964, que abria os anos de chumbo. Os jornalistas eram muito visados. Tínhamos de conviver com medo de fazer pergunta, com medo de censura nas matérias. Conto um episódio. Conheci uma figura que, na ditadura, era ministro do Interior de Castello Branco, o Marechal Cordeiro de Farias, um dos líderes da famosa Coluna Prestes.
É oportuno lembrar que a Coluna Prestes passou por Luís Gomes, minha cidade. Saiu do Nordeste, atravessou o país todinho, atravessou o centro-oeste, indo bater na Bolívia, isso na década de 1930. Então, um dos tenentes da Coluna Prestes era Cordeiro de Farias. Meu pai me contava uma história interessante: quando a Coluna Prestes chegou em Luís Gomes, os tenentes se apropriaram de todos os bens dos lojistas, os produtos alimentícios das lojas, roupas etc. Meu pai tinha uma loja de tecidos e produtos alimentícios. Recebeu um documento assinado pelo comando da Coluna, prometendo que, vitoriosa, a Revolução faria o ressarcimento de todos os produtos confiscados. Meu pai se aproximou do Cordeiro de Farias para ouvir o que o grupo de comando estava conversando no meio da rua. Cordeiro se aproximou do meu pai e disse: “– Jovem, o que você está querendo ouvir?”, e meu pai saiu devagarinho. Contei esse episódio ao próprio Cordeiro de Farias nessa viagem por ocasião do início de construção da barragem da Boa Esperança. O evento começava com uma explosão para desvio das águas do Rio Parnaíba, na fronteira do Piauí com Maranhão.
“– Luís Gomes? No extremo oeste, fronteira com a Paraíba? Eu me lembro”. Ele se lembrava, não do episódio, mas da cidade. Contei a história, ele riu muito. A Coluna Prestes fez história.
Narro outro episódio, relativo aos atentados dos Guararapes.
Estive no aeroporto dos Guararapes, por ocasião do trágico evento em que morreu meu amigo, o jornalista Edson Regis, então secretário do governo Paulo Guerra, vítima do atentado em que morreu também o vice-almirante Nelson Gomes Fernandes, cujo relato (para quem se dispuser a ler, vai a seguir): “Naquela manhã de sol ardente do dia 25 de julho de 1966, repórter da Folha, sucursal do Nordeste, andava eu de um lado para outro, no aeroporto dos Guararapes, em Recife, tentando identificar autoridades entre as cerca de 300 pessoas que aguardavam o marechal Costa e Silva.
Ele viria de João Pessoa para seu périplo pelo Nordeste, na campanha para a Presidência da República pela então Arena. Para minha frustração, o alto-falante avisa: devido a uma pane no avião, o marechal viria de automóvel. Em minha mente de repórter em início de carreira, tinha uma pergunta embaraçosa a fazer: “Por que ele não era o preferido do presidente Castelo Branco para sucedê-lo”?
Preparava-me para sair quando o artefato explodiu. Poderoso deslocamento de ar jogou-me metros de distância de onde me encontrava. Intensa fumaça, gritos de terror e uivos de dor. Tonto, levantei-me, sem saber para onde ir. As pessoas corriam em direção à saída. Voz geral: um atentado para matar Costa e Silva.
Na frente do aeroporto, deu para enxergar o apoplético coronel Hélio Ibiapina, óculos Ray-Ban, face avermelhada, dando ordens, ordenando o desvio de carros. No táxi, um susto: vi sobre um dos ombros do meu paletó cinza-esverdeado massa de miolos esfarelados e gotas de sangue. Eu estava perto dos dois mortos: o jornalista Edson Regis de Carvalho, secretário da Casa Civil de Pernambuco do governo Paulo Guerra, e o vice-almirante aposentado Nelson Gomes Fernandes.
Fui direto à Italcable, na avenida Dantas Barreto, onde rabisquei telegrama para a Folha, noticiando a explosão e o zum-zum: outra bomba teria explodido na sede da União dos Estudantes de Pernambuco e mais uma na USAID (United States Agency for International Development).
Voltei à sucursal da Folha, na pça Joaquim Nabuco e corri ao banheiro para administrar o problema estomacal que me acometeu. Só depois relatei o caso a Calazans Fernandes, chefe da sucursal e Manuel Chaparro, hoje recuperando a saúde, e sempre contando esse detalhe pitoresco.
A história foi apurada. Passei anos desconfiado sem saber quem teria sido o mentor. Atribuía-se inicialmente ao ex-deputado Ricardo Zarattini, que chegou a ser torturado, e ao professor Edinaldo Miranda. Teria sido perpetrado pela AP, sendo o ex-padre Alípio de Freitas o mentor, e Raimundo Gonçalves Figueiredo, Raimundinho, codinome Chico, o operador. Este morreu em abril de 1971 em tiroteio com policiais.
Jacob Gorender, no livro "Combate nas Trevas", relata parte do caso. Uma maleta escura com a bomba foi colocada encostada numa pilastra próxima à livraria Sodiler. O guarda-civil Sebastião Thomaz de Aquino, o Paraíba, ex-jogador do Santa Cruz Futebol Clube, teria pegado a maleta para entregá-la no DAC. Além dos dois mortos, 14 feridos.
O Jornal do Commercio, de Recife, sob a coordenação do repórter Gilvandro Filho, entrevistou o padre Alípio de Freitas, já em Portugal, que defendia a causa de operários e a reforma agrária. A investigação concluiu que os dois acusados eram inocentes, fato reconhecido pelo Estado apenas em 2013, por meio da Comissão da Memória e Verdade Dom Hélder Câmara.
Volto à cronologia.
Mesmo na faculdade, trabalhei na sucursal do Correio da Manhã, em Recife, jornal em que na época trabalhavam Márcio Moreira Alves, Otto Maria Carpeaux, Hermano Alves, Antônio Callado, uma galeria de renome.
Diante dessa iniciante e promissora carreira, acabei sendo convidado por Calazans Fernandes para ingressar na Sucursal da Folha. Pouco tempo depois veio o convite: “– Torquato – me chamava de Torquato – você quer ir para São Paulo?. Tem 72 horas pra você decidir”. “–Topo!” , respondi imediatamente. Fazíamos no Recife um suplemento especial da Folha, experiência bem-sucedida: os cadernos do Nordeste. Diante do sucesso, Octavio Frias de Oliveira convidou o Calazans para fazer esses suplementos em São Paulo.
Eu ganhava bem em Recife, trabalhando em três jornais, até a madrugada (na época podíamos trabalhar em mais de um jornal). E assim, Calazans, Chaparro e eu aterramos nas plagas paulistanas. Chaparro havia sido assessor de imprensa da Sudene, quando João Gonçalves de Souza a dirigia. Excelente jornalista que havia feito uma experiência jornalística de primeira qualidade no Rio Grande do Norte com o jornal A Ordem, trazido de Portugal por Dom Eugenio Sales. Pertencia à JOC, Juventude Operária Católica. São Paulo, maio de 1967, um frio danado, uma metrópole gigantesca que me impressionava pelo número de orientais que eu via: “Olha aquele ali, olha aquele”, nunca vi tanto japonês na vida.
Nos Suplementos, fizemos uma experiência extraordinária com o jornalismo interpretativo.
Calazans Fernandes, para quem não sabe, foi a ligação entre Aluízio Alves e John Kennedy, que chegou a receber o governador na Casa Branca. Calazans foi secretário de Educação do RN e responsável pela vinda de Paulo Freire e seu método.
Mais um detalhe: mesmo trabalhando em jornais do sul, recebemos um convite de Esmaragdo Marroquim, diretor de redação do Jornal do Commércio de Pernambuco, de propriedade do ex-senador e empresário de comunicação F. Pessoa de Queiroz, para trabalharmos no Jornal do Commercio, o jornal do coração de meu pai, E lá fomos os três – Calazans, Manuel Chaparro e eu, aliás, quatro, porque a nós se juntou o talento de Ney Lopes. Este e eu fomos repórteres especiais, para produção de grandes reportagens. Em 1966, fiz a série de reportagens sobre esquitossomose, puxando para o foro de discussão todas as correntes da Escola pernambucana, considerada uma das mais famosas do mundo, a debater a matéria: clínicos, cirurgiões e os patologistas foram minhas fontes, além dos habitantes da Grande Recife. Foram sete reportagens sob o título Barriga D’Água, a Doença que Mata na Cura. Tinha 21 anos. Ganhei o Prêmio Esso Nacional de Informação Científica. Boa grana e uma bela pena de ouro, incrustada de diamantes, réplica da pena usada pela princesa Isabel na Abolição da Escravatura.
Na Folha, começamos por realizar a maior e mais abrangente análise dos problemas paulistanos, consubstanciada em 7 suplementos dominicais, somando 542 páginas: Grande São Paulo, O Desafio dos Anos 2.000. Um mergulho no pensamento dos grandes nomes da época nas áreas de geografia, sociologia, urbanismo, planejamento, ciências naturais, filosofia, história etc. Um sucesso. Os Suplementos inauguravam o OFF SET a quatro cores adquirido pela Folha.
Morávamos, Chaparro e eu, no hotel Marechal, que chamávamos de hotel pulga, ao lado da Folha, na Barão de Limeira. Lembro-me que trabalhávamos de maneira intensa, integral. No dia 7 de setembro de 1967 estávamos na Barão de Limeira, 401. Não podíamos furar o cronograma. Numa manhã radiosa de domingo, saí para comprar na banca da rua Duque de Caxias um exemplar da Folha com o Suplemento, curioso para ver nosso trabalho. Lá estava o nosso esforço. Um rádio de pilha tocava alto na banca uma música que eu ouvia pela primeira vez. Era a voz de Caetano Veloso. “Caminhando contra o vento/Sem lenço e sem documento/No sol de quase dezembro/Eu vou/ O sol se reparte em crimes/Espaçonaves, guerrilhas/Em Cardinales bonitas/Eu vou”...São Paulo abria-se como um presente em minha vida.
Os Suplementos foram aplaudidos. Uma semente plantada de jornalismo interpretativo, no tempo em que a área era desenvolvida pela revista Veja e pelo Jornal da Tarde, em São Paulo, do grupo de O Estado de São Paulo. Fui editor dos Suplementos até os anos 70, quando uma querela entre os dois proprietários da Folha – Otávio Frias e Carlos Caldeira – extinguiu o Departamento. Até imagino a razão: de uma equipe composta por três jornalistas, um ano depois o grupo dos Suplementos somava mais de cem pessoas, entre jornalistas, publicitários, pesquisadores, consultores etc.
Saímos da Folha, como se diz, fomos para o olho da rua. (Eu, porém, já lecionava em faculdades, como veremos mais adiante). E aí o Chaparro teve a brilhante ideia de criar a Proal, Programação e Assessoria Editorial, chamando-me para fazer parte da equipe. Eu, ele e o Luiz Carrion para a parte de publicidade. Fizemos então essa experiência de produzir jornais de empresas, a partir do Ultra-Gazeta, do grupo Ultra, jornal então produzido por Joelmir Betting, que depois convidou o Chaparro para ficar em seu lugar. Desenvolvemos o projeto do jornal, iniciando as atividades da Proal em um escritório pequeno no Vale do Anhangabaú, no 45º andar de um dos mais altos edifícios da capital. Havia tardes em que a gente não tinha nada pra fazer, ficávamos jogando aviãozinho para os passantes. A Proal começou a crescer e chegou a ter 35 clientes, ou seja, 35 jornais de empresa. Crescendo, fomos para uma casa no Paraíso, na Rua Afonso de Freitas, depois para a Rua Chuí, a seguir numa grande casa na Vila Mariana. A Proal se caracterizou por ser uma escola de jornalismo, não apenas produzindo jornalismo empresarial, mas também discutindo jornalismo.
Como professor, eu convidava colegas para mesas de debates periódicos na Proal.
Foi aí que eu escrevi o primeiro artigo sobre jornalismo empresarial no Brasil. O primeiro caderno, os primeiros estudos sobre jornalismo especializado no Brasil foram feitos pelos cadernos Proal. Eu era editor dos cadernos, Chaparro dirigia a redação, deixando-me na área de estudos e pesquisas. Luiz Carrion era o diretor comercial. Passaram pela Proal jornalistas importantes, como Carlos Eduardo Lins da Silva, que foi secretário de redação da Folha de S. Paulo, e outros jornalistas de renome. Formávamos um grupo bem integrado, curioso, animado. Fiquei na Proal até 1982, quando fui convidado para dirigir a área de comunicação do Grupo Bonfiglioli, um conglomerado com 32 empresas. Passei quatro anos comandando comunicação, período em que implantei um modelo de comunicação, com 9 subsetores, considerado um dos primeiros modelos sistêmicos do país.
L.O. Por que a escolha pelo jornalismo político, Gaudêncio? Já pensou alguma vez em ingressar na política partidária? Alguma experiência nesse sentido?
G.T. As circunstâncias explicam tudo. Com a bagagem humanística adquirida no Seminário, era natural que eu me sentisse confortável no jornalismo. Além disso, minha família tinha no sangue o DNA da política. Em certo período da política no RN, eu tinha três irmãos como deputados estaduais: José Torquato, Jader Torquato e Lindalva Fernandes, casada com o ex-prefeito e ex-deputado estadual José Fernandes, líder admirado e querido, um político dos mais afamados do RN, que fez política ao lado de nomes que lideraram partidos no Estado.
Portanto, vivi, desde a infância, a política em todos os seus movimentos e eventos; campanhas intensas entre adversários, derrotas e vitórias. Vi Jáder, meu irmão, perder uma mão ao acender uma bomba para comemorar sua vitória como prefeito de Luís Gomes. Vi e ouvi tiroteios e mortes em função da radicalização política entre alas opostas na minha cidade.
Portanto, aprendi, desde cedo, conviver com os modos da política no interior do país. Foi natural a opção pelo jornalismo político.
Mas, antes da política, cobri como repórter todas as pautas do jornalismo, nas sucursais do Jornal do Brasil, Correio da Manhã e Folha de São Paulo. No Correio da Manhã, destaco minhas matérias sobre as atividades do sindicalismo rural, envolvendo o famoso Padre Melo e o padre Paulo Crespo, líderes no vácuo deixado por Francisco Julião, das Ligas Camponesas, exilado no México.
O meu desenvolvimento no jornalismo teve como eixo a minha vida na academia, razão pela qual passo a descrever alguns passos. Quer dizer, o meu gosto pela política advém também da continuada especialização a que me impus na carreira acadêmica. Explico. Minha trajetória como professor começou em 1968, aos 22 anos (completaria 23 em abril) na Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero. Fui convidado para dar aulas nas disciplinas de jornalismo comparado e jornalismo interpretativo pelo prof. José Marques de Melo, que, na época, criava um centro de pesquisas em jornalismo na Faculdade. Em 1969, por concurso, entre na Escola de Comunicações da USP, onde passei quase três décadas, lecionando jornalismo interpretativo, jornalismo informativo e jornalismo empresarial, disciplina criada por minha iniciativa, a par de comunicação política na pós-graduação. Lecionei, ainda, nas Faculdades Integradas Alcântara Machado e no Instituto Metodista de Ensino Superior (hoje, Universidade Metodista), onde dei aulas na pós-graduação.
Assumi, simultaneamente, o papel de jornalista, pesquisador acadêmico e professor. Na sala de aula, pelo menos duas gerações de jornalistas me acompanharam nas disciplinas que ministrei.
Entre os meus focos, está a sistematização do jornalismo empresarial. Pela primeira vez, o assunto tornou-se objeto de estudo em uma universidade. Defendi Tese de Doutoramento em 1973, aos 28 anos, e dez anos depois, Tese de Livre Docência, transformando questões apreendidas na prática profissional em objeto de estudo acadêmico. Àquela altura, eu já tinha dez anos de experiência em comunicação empresarial, tendo meu nome como pioneiro na galeria da comunicação empresarial no Brasil. Um orgulho. Essa experiência despertou a atenção para uma questão que só a vivência interna em uma grande organização poderia revelar: a necessidade de otimizar a comunicação fragmentada em modalidades (jornalismo, relações públicas, publicidade, editoração, identidade visual e assessoria de imprensa) introduzindo, em seu lugar, uma estrutura sistêmica. O modelo integrado de comunicação organizacional, criado para o Grupo Bonfiglioli, norteou minha tese de livre-docência em 1983, um Modelo Sinérgico para a Comunicação Organizacional.
A base conceitual do trabalho se amparava na defesa do conceito de poder expressivo, que adicionei à tipologia de poderes adotada por Amitai Etzioni (1974) em suas análises sobre o poder nas organizações complexas. Em outras palavras, ao lado dos poderes remunerativo, normativo e coercitivo, procurei demonstrar que o poder da comunicação era fundamental para as metas do engajamento e participação e obtenção de eficácia.
Abro parênteses para explicar as bases dessa proposição.
Se o poder é a capacidade de uma pessoa em influenciar uma outra para que esta aceite as razões da primeira, isso ocorre, inicialmente, por força da argumentação. A relação de poder se estabelece em decorrência do ato comunicativo. O poder da comunicação se apresenta ainda no carisma, esse brilho extraordinário que os líderes exprimem e que se faz presente na eficiência do discurso, na maneira de falar, na gesticulação, na apresentação pessoal. O carismático possui imensa capacidade para integrar e harmonizar os discursos semântico e estético. E, ainda, detém a condição de animar os ambientes, atrair a atenção e a simpatia de ouvintes e interlocutores.
Nas organizações, a comunicação é usada de diversas formas. Desenvolve-se, de um lado, um conjunto de comunicações técnicas, instrumentais, burocráticas e normativas. Em paralelo, ocorrem situações de comunicação expressiva, centrada nas capacidades e habilidades, nos comportamentos e nas posturas das fontes. A comunicação expressiva humaniza, suaviza, coopta, agrada, diverte, converte, impacta, sensibiliza. Quando o teor das comunicações instrumentais é muito denso, as organizações se transformam em ambientes ásperos e áridos. De outra forma, quando as comunicações expressivas se expandem nos fluxos da informalidade, as organizações dão vazão a climas alegres, cordiais, solidários, humanizados. A comunidade torna-se mais descontraída e solidária. Essa comunicação expressiva é a alavanca de mobilização interna.
Descrevi essas ideias em alguns livros, os conceitos estão no Tratado de Comunicação Organizacional e Política e Comunicação nas Organizações, e em Cultura, Poder, Comunicação, Crise e Imagem e em outros, onde faço considerações sob ângulos diferentes sobre a importância das comunicações nas organizações. Fui o primeiro a escrever e a defender tese na área comunicativa especializada no Brasil. Na USP fui também chefe do Departamento de Jornalismo algumas vezes, acompanhei a vida jornalística do país, além de minhas atividades de redação. Sempre escrevi.
Se na década de 1970 a comunicação chegava a um alto patamar nas organizações, na de 1980 investiu-se do conceito estratégico. A era da estratégia prima pela necessidade de a organização ser a primeira no mercado ou, no máximo, a segunda. O foco é o posicionamento. As grandes corporações e os modelos eram plasmados a partir da ideia de centralização das chamadas funções-meio (planejamento, recursos humanos, comunicação) e descentralização das chamadas funções-fim (fabricação, vendas e distribuição). A profissionalização se consolidava e os quadros do jornalismo das redações dos grandes jornais e das grandes revistas assumiam funções importantes nas corporações. O ingresso dos jornalistas nas empresas conferiu novo ritmo à comunicação empresarial e as universidades foram obrigadas a reforçar o conceito, dando vazão a cursos específicos.
O posicionamento mais elevado do profissional caracterizou a década de 1990. Na verdade, ele tem sido um eficaz intérprete dos efeitos da globalização, principalmente no que se refere ao foco do discurso e à estratégia para conferir nitidez à identidade e à imagem organizacionais. O comunicador passou a ser um leitor agudo da necessidade de a empresa interagir estrategicamente com o meio ambiente e competir em um mercado aberto a novos conceitos e novas demandas. A globalização propiciou, ainda, a abertura do universo da locução. Os discursos empresariais se tornaram intensos, passando a provocar mais ecos.
Os trabalhos acadêmicos, nas décadas de 1980 e 1990, foram praticamente inspirados e guiados pela tônica jornalística, abrangendo questões de forma e linguagem, tipologia da comunicação organizacional, abrangência temática etc. Infelizmente, grandes ausências ainda se fazem sentir. Muita coisa deixou de ser feita.
Essa modelagem de comunicação significa aduzir que as organizações descobriram a política. O termo “política”, nesse caso, tem o sentido de inserção da organização na comunidade política. Com a expansão do universo da locução, da palavra e das ideias, organizações administrações, governos e políticos foram compelidos a aperfeiçoar linguagens e abordagens, com o fito de melhorar a imagem e a visibilidade. As organizações brasileiras de todos os tamanhos e segmentos, na esteira do crescimento do conceito de participação, desenvolveram um papel político mais significativo na sociedade, fazendo-se mais presentes no panteão da cidadania.
Os empresários saíram das redomas, abrindo o pensamento à mídia, defendendo posições fortes em prol da modernização política e institucional, bem como discutindo a eficiência das políticas públicas. Iniciaram, desse modo, uma função de caráter político. Representantes dos setores produtivos, enfim, decidiram encarnar um papel político. A comunicação organizacional, portanto, banha-se de uma visão política.
Entenda-se que a empresa faz marketing político quando transporta seu pensamento para a sociedade com o intuito de fixar identidade, defender-se ou tomar uma posição. Ocorre que no Brasil o tempo “política” foi muito contaminado e é quase sempre identificado com a velha política partidária. Será preciso, por isso, resgatar esse “novo-velho” sentido do político, conferindo-lhe o significado adequado.
Os caminhos foram sendo ampliados. No final da década de 1980, a comunicação empresarial avançou na seara da comunicação governamental e do marketing político. Esse avanço se deu na esteira do fortalecimento de um novo espírito de cidadania, nascido de uma sociedade civil mais organizada e cada vez mais cônscia de seus direitos e deveres.
Em 1986, acompanhando o clima ambiental e a abertura do universo da locução (grandes reportagens de denúncias de surgiram nessa época), fiz questão de atuar em mais um campo da comunicação especializada, na onda de novas motivações e de integração ao espírito do tempo. Escolhi o universo da comunicação governamental, até então desprovido de mapas conceituais e carente de formulações.
Passei a elaborar planos diretores de comunicação para ministérios. Foi um período de novas descobertas. Durante a primeira fase do Governo Sarney, Fernando César Mesquita, chefe da Assessoria de Comunicação do Planalto, decidiu criar uma Comissão de Comunicação Estratégica, composta por 25 nomes de expressão, para estabelecerem as diretrizes da comunicação governamental. As ideias brotavam, mas a execução de projetos deixava a desejar. O governo se perdia no cipoal de planos para recuperar o poder da moeda. Como secretário executivo da comissão, acabei sugerindo, depois de algum tempo, sua própria dissolução por constatar que não havia clima para se praticarem as sugestões oferecidas pelo colegiado. Primeiro, a administração deveria descobrir “o que” comunicar.
Esgotando essa experiência, com a proposição de estratégias para alguns ministérios e a formulação de um modelo centralizado de comunicação governamental para o Poder Executivo, chegou a vez do marketing político.
Nessa oportunidade, tratava-se de ampliar o leque da comunicação, buscando agregar a ela novos eixos – pesquisas de opinião, formação do discurso (identidade), articulação e mobilização das massas. Amparado na vivência de campanhas políticas para governo de alguns estados, a partir do Ceará, onde produzi a primeira peça de planejamento da campanha de Tasso Jereissati ao governo, passei a reunir conhecimentos nos dois campos especializados e lancei um terceiro livro, Marketing político e governamental: um roteiro para campanhas políticas e estratégias de comunicação, em 1985.
Conto um caso sobre marketing político. Em junho de 1986 eu parti para o Ceará para ver o que eu podia fazer pela campanha do Tasso Jereissati. Eu me lembro como se fosse hoje, dia 24 de junho, São João. São João no Nordeste é uma festa, uma coisa barulhenta, festiva. Estava no Hotel Esplanada, quando me pegaram para um evento junino em um clube da periferia, um desfile de trajes juninos. Fui junto com o deputado Barros Pinto. Chegando lá, sugeri a Tasso: “– Você deve se apresentar para as pessoas”; encabulado, o candidato corria às mesas: “– Eu sou o Tasso Jereissati”. As pessoas olhavam para ele, desconfiadas. Tinha 2% de intenção de votos nas pesquisas. Depois do evento, chegou para o Sérgio Machado, então amigo, e disse: “– Sérgio, se político for esse negócio de ir pra nascimento, casamento, batizado, festa junina, eu estou fora, não quero mais isso daí não”.
Acalmamos o Tasso, eu numa maquinazinha lettera 22 escrevi o planejamento da campanha: ele contra os três coronéis, Adauto Bezerra, Virgílio Távora e César Cals. Escrevi essa peça, fui a Brasília para fazer o resto, expor o briefing para a agência criar a campanha. Em resumo, ele ganhou por grande maioria.
Comecei a escrever sobre marketing político, entrei numa ampla vereda e fiz o primeiro livro sobre marketing político, comunicação governamental e comunicação política. Descrevi os princípios que um candidato deveria cumprir. Na liça profissional, coordenei campanhas para governos de Estado no Nordeste e no Norte do país e assessorei boa leva de candidatos.
Do jornalismo empresarial passei para a comunicação organizacional, a seguir, para a comunicação política, sem nunca ter deixado de escrever. Por cerca de 25 anos fui articulista da segunda página do Estadão, boa parte aos domingos. E continuo a escrever, ainda hoje, aos domingos, uma coluna sobre política no blog do Noblat no site Metrópoles, e mantenho Porandubas, que, em tupi-guarani significa notícia, pequenas notas nas quartas-feiras, no site Migalhas.
Portanto, tento interpretar a política há mais de três décadas, abordando temáticas nacionais, visões múltiplas na vertente partidária ou na frente dos costumes, tradições, usos e práticas dos atores políticos – físicos e jurídicos. Orgulho-me ao constatar que parcela importante do pensamento nacional acompanha atentamente as reflexões.
Estou aposentado na USP e hoje, dou aulas esporádicas e faço palestras.
Não posso deixar de mencionar minha vida na Intercom, a maior entidade de comunicação do país. Fui o terceiro presidente da Intercom, criada sob a liderança de José Marques de Melo, o idealizador da entidade voltada para uma abordagem multidisciplinar de comunicação. A Intercom ganhou corpo, realizando congressos com quatro, cinco e até seis mil participantes. A entidade tem duas fases, a minha fase foi mais voltada para uma boa relação com o mercado e com as entidades governamentais.
L.O. Algum destaque na história sobre a política brasileira, envolvendo personagens do Rio Grande do Norte, que gostaria de lembrar para os leitores?
G.T. Pinço um rápido registro do passado. O RN deu sua contribuição para a história do Brasil, com a presidência de Café Filho. Com a reeleição de Getúlio Vargas, em 1950, o potiguar, nascido em Natal em 1899, ganhou a vice-presidência, além de ser reeleito deputado federal pelo RN. Um manifesto assinado por 27 generais, em 1954, exigiu a renúncia de Vargas, Café deixou clara sua disposição de assumir a presidência, ao mesmo tempo em que Vargas comunicava a seu ministério a decisão de licenciar-se. Nas primeiras horas do dia 24 de agosto, depois de receber um ultimato dos militares para que renunciasse, Vargas suicidou-se garantindo a posse de Café Filho no mesmo dia. Na manhã do dia 3 de novembro de 1955, Café Filho foi internado no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, acometido de um distúrbio cardiovascular que forçou seu afastamento das atividades políticas. No dia 11, o Congresso Nacional, reunido em sessão extraordinária, aprovou o impedimento de Carlos Luz para assumir o cargo, empossando Nereu Ramos, vice-presidente do Senado em exercício, na presidência da República.
Destaco, ainda, a articulação de Aluízio Alves para viabilizar a ajuda americana ao Nordeste, via Aliança para o Progresso. Aluízio trouxe para o Estado a energia de Paulo Afonso.
Em 1986, como ministro da Administração, chamou-me para breve consultoria na área de comunicação, além de cursos de formação de servidores na Fundação integrada ao Ministério. Sempre o recebia em São Paulo, organizando encontros com jornalistas, ocasião em que contava, com muita graça, episódios de sua vida política.
Dinarte Mariz, o ex-governador da região do Seridó, era o udenista amigo do meu pai. Uma das maiores alegrias do meu velho se deu por ocasião da visita de Dinarte a Luís Gomes. Lembro-me quando meu pai o levou aos fundos da casa, de onde se descortinava o sertão da Paraíba, com destaque para a cidade de Uiraúna. Serras e montanhas eram lembradas. Dinarte se divertia com as brincadeiras de Jader, meu irmão, que, certo dia foi lhe pedir um emprego, algo como fiscal de renda. Dinarte: “– Está certo, Jader. Deixemos para quando eu voltar do Rio”. Jader retrucou: “– Não, governador, assine isso logo. Eu sei lá se o senhor não morrerá de um desastre de avião?!” Dinarte, gargalhando, mandou providenciar o documento.
L.O. Coloco aqui a minha curiosidade sobre quais foram as suas primeiras leituras. E as de hoje?
G.T. Minhas primeiras leituras foram os clássicos: José de Alencar (Iracema, O Guarani, Lucíola, entre outros), José Lins do Rego (Menino de Engenho, Fogo Morto, Doidinho); Joaquim Manuel de Macedo (A Moreninha, um livro excitante), Graciliano Ramos (Vidas Secas), Machado de Assis (Memorias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, O Alienista). O rol é longo. Toma muito tempo para dizê-lo todo. Um detalhe: no Seminário tivemos de ler Os Noivos, de Alessandro Manzoni, um livrão quilométrico. Mas meus livros queridos, aos doze, treze anos, na época do Seminário, foram os de Karl May, autor de farta coleção de romances de aventura. Meus heróis eram Winnetou e Mão de Ferro, protagonistas no velho Oeste americano.
Convivi e convivo com os clássicos. Ainda leio a Eneida, de Vergílio, com seu verso de abertura: “arma virumque cano, Troiae qui primus abo ris Italiam fato profugus Laviniaque venit litora”(risos). Teria sido inspirado em Homero, na Odisseia? “Fala-me, Musa, do homem astuto que tanto vagueou, depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada. Muitos foram os povos cujas cidades observou, cujos espíritos conheceu; e foram muitos no mar os sofrimentos por que passou para salvar a vida, para conseguir o retorno dos companheiros a suas casas.”.
E Camões teria surfado na corrente dos dois? “As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca d’antes navegados, passaram ainda além da Taprobana”
Hoje, leio livros sobre política e poder. A sociologia política, na visão de Roger-Gérard Schwartzenberg, me entusiasma. Mistificação das Massas pela Propaganda Política, de Serge Tchakhotine, é meu livro de cabeceira.
L.O. Nesse contexto das questões e das vivências literárias, qual foi o seu sentimento ao ingressar na Academia Norte-rio-grandense de Letras?
G.T. Foi com imensa alegria que vi meu nome ser escolhido por um grupo para integrar a Academia Norte-rio-grandense de Letras. Terei a rara oportunidade de conviver e dialogar com um conjunto especial de escritores, romancistas, poetas, cronistas, historiadores, pessoas das letras e das artes. Quero participar com ideias para aprimoramento da vida de nossa entidade. Já senti que esse grupo é exemplo de excelência no pensamento literário potiguar. Sinto-me feliz por integrá-lo.
L.O. Ccomo você vê as novas formas de comunicação, num mundo em que todos podem se conectar virtualmente? O que sobra e o que falta nesta época?
G.T. O mundo tornou-se menor. A cidade global é uma nova realidade em nossas vidas. Todos estamos muito próximos. Nossas vidas conservam extensões na tecnologia e na inteligência digital. Por isso, é surpreendente que haja, ainda, tanto espaço para a ignorância. A ciência está pertinho de nossas cabeças. Mas, contingentes embrutecidos, envoltos nas camadas de insensibilidade, rejeitam o conhecimento. Esse é o grande paradoxo da “Sociedade de Informação”. O mundo será cada vez mais interdependente e integrado. Porém, mais sujeito às mentiras e às falsas versões. Urge lutarmos como seres do Bem para vencer os dragões da ignorância.
L.O. Gaudêncio, qual a sua relação com a grande música e com as artes em geral? Sei que faz parte do Conselho de uma orquestra de São Paulo. O que advém, como enriquecimento cultural, dessa experiência?
G.T. Lívio, gosto muito de música clássica, que cultivei por anos seguidos no Seminário. Aos domingos e feriados, os altos falantes nos acordavam com músicas clássicas, passando praticamente todas as manhãs tocando Chopin, Beethoven, Bach, Mozart. Já nas missas, nosso canto era o gregoriano. Que ainda ouço com prazer e saudade.
Hoje, faço parte do Conselho do Instituto Bacarelli, sediado na favela de Heliópolis. Um espaço de atendimento às crianças e a jovens, que são tirados da criminalidade para se integrar ao canto clássico. A orquestra sinfônica de Heliópolis, regida pelo maestro Isaac Karabtchevsky, é referência mundial. Seus alunos são convidados para integrar as melhores orquestras sinfônicas do mundo. Trata-se de minha contribuição social participar do Conselho do Instituto e de outras organizações não governamentais.
L.O. Caro Gaudêncio, quase chegando ao fim da entrevista, gostaria de saber se tem alguma obra da sua lavra em curso?
G.T. Estou ultimando mais um livro: “Poder, Política e Retórica – Da Antiguidade aos Nossos Dias”. Trata-se de um trabalho de resgate de alguns dos grandes oradores da Humanidade e o uso de suas falas como ferramenta de poder. Da Antiguidade, puxo o pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles. Registro as ideias de grandes filósofos, sociólogos e formuladores a respeito de poder, dentre eles, Thomas Hobbes, Baruch de Espinosa, Max Weber, Karl Marx, Friedrich Engels, Jean-Jacques Rousseau, Karl Deutsch, Friedrich Nietzsche, Immanuel Kant, Norberto Bobbio, John Kenneth Galbraith, Elias Canetti e Amitai Etzioni. Pinço o discurso de figuras como Péricles, Cícero, Demóstenes, Confúcio, Buda/Gautama/Budismo, Maomé/Islamismo, Jesus de Nazaré, Santo Agostinho, São Joao Crisóstomo, Dalai Lama, João XXIII, Mahatma Gandhi e Madre Maria Tereza de Calcutá. A seguir, resgato a retórica imperial/absolutista/ ditatorial, com Nicolau Maquiavel, Cardeal de Richelieu, cardeal Mazarino, Luís XIV, Napoleão Bonaparte, Mao Tse-Tung, Adolf Hitler e Vladimir Lenin. Entro na contemporaneidade (considerada a partir da Revolução francesa), com George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, Winston Churchill, John Kennedy, Charles De Gaulle, Martin Luther King, Margareth Thatcher, Nelson Mandela, Mikhail Gorbatchev e Barack Obama.
No capítulo do Brasil, puxo as falas do Padre Antônio Vieira, José Bonifácio: O Patriarca da Independência, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa.
Na parte final da obra, os discursos começam com Getúlio Vargas e seguem até Luiz Inácio Lula da Silva.
L.O. Com a sua estatura intelectual e destaque nacional, certamente outros convites e possibilidades virão. Já pensou na Academia Paulista de Letras ou outro sodalício dessa natureza?
G.T. Vou dar tempo ao tempo. Que é o Senhor da Razão (risos).
L.O. Por derradeiro, como você vislumbra o ano de 2022, nos planos político e cultural, no Brasil e no mundo? Alguma boa e alvissareira novidade conceitual ou de postura nesses campos?
G.T. Vejo a racionalidade crescer. Um fenômeno positivo para o mundo e para o Brasil. As correntes emotivas sempre farão seu percurso. Mas o pensamento lógico tende a crescer, embora tenhamos de admitir ondas emotivas de radicalização. Sou um crente nos potenciais de nosso Brasil. Tenho fé. E jamais deixarei a esperança me abandonar.
Entrevista concedida a Lívio Oliveira – respostas enviadas de São Paulo , em 1º de fevereiro de 2022].
12 de abril de 2023
07 de abril de 2023
07 de abril de 2023
28 de junho de 2022
16 de junho de 2022
20 de fevereiro de 2022
20 de fevereiro de 2022
20 de fevereiro de 2022
04 de junho de 2023
15 de setembro de 2022